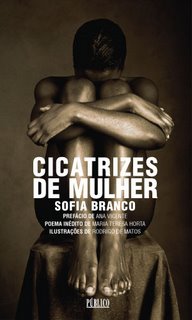Projecto
exclui excisão do ritual de iniciação feminina na Guiné-Bissau
Cortar a dor. Deixar as facas

Sofia Branco
16.11.2003
Em Bissaque, um dos muitos bairros de
Bissau, o sol queima como só em África pode queimar. A humidade
entranha-se no corpo e embacia os olhos. As gotas de suor
brilham nos rostos das 215 fanadozinhos (nome dado às iniciadas)
que saem da Baraca Malgóss (crioulo para barraca amarga, lugar
sagrado interdito a pessoas alheias ao fanado, o ritual de
iniciação).
Semelhante a muitas das habitações em redor,
a Baraca Malgóss distingue-se apenas pelas esteiras colocadas em seu
redor, com a altura média de uma pessoa, para impedir que olhares
estranhos e impuros (leia-se não muçulmanos) contaminem as
fanadozinhos que lá dentro aprendem lições para a vida adulta que
agora iniciam. À saída das duas centenas de meninas, que ali
passaram os dois últimos meses, um dos tocadores do djidiu (grupo de
homens músicos que protege as fanadozinhos de “forças estranhas” e é
a única presença masculina na barraca) queima as esteiras onde as
meninas receberam as mais variadas lições, apagando vestígios de
mais um fanado. O fogo remete a história para o fundo e inviolável
baú dos segredos, cuidadosamente guardado pelos mais diversos e
ameaçadores irãs, espíritos do animismo venerados pela generalidade
das etnias guineenses, ainda que islamizadas ou cristianizadas.
Uns dias antes, sob o mesmo calor ardente, uma mancha colorida saía
da Baraca Malgóss. À medida que se ia aproximando, era possível
distinguir vários corpos. As “mulheres velhas”, fanatecas de
profissão, que, desde tempos imemoriais, constroem as suas casas e
criam os seus filhos com o dinheiro que recebem por eliminar o
centro nevrálgico do prazer feminino, perscrutam o “branco”,
visitante passageiro naquela terra e estrangeiro para sempre naquela
cultura. Tentam ver-lhe a alma, se é que terá uma. De braços
cruzados e postura desafiadora. Poucas usam as palavras. E, quando
usam, não são seguramente portuguesas e nem sempre são crioulas.
Após muita insistência, lá vão dizendo que conhecem pelo menos uma
fanateca que costuma ir a Portugal excisar meninas. O nome é vago e
o paradeiro repentinamente incerto.
Aderiram ao fanado alternativo — projecto criado há quatro anos pela
Sinin Mira Nassiquê (SMN), que significa olhar o futuro, na língua
étnica dos mandingas, grupo islamizado do país — e optaram por
abdicar do corte (nome crioulo para a excisão) do qual as suas mães
e avós fizeram profissão. “Disseram-nos que mutilar as meninas não
era bom e decidimos entregar as facas”, simplifica Nima Corubum, uma
das 22 fanatecas que, nos últimos dois meses, deu lições sobre a
vida de adulto às meninas-crianças dos cinco aos 15 anos.
Este ano, a organização não governamental (ONG) guineense que
combate a mutilação genital feminina (MGF) decidiu realizar o fanado
alternativo num dos bairros periféricos de Bissau, onde, ao
contrário do que se possa pensar, os modos de vida não diferem muito
dos das tabancas do Interior, revelando que a urbanidade da capital
guineense está circunscrita a poucas avenidas.
O fanado é um ritual de iniciação extremamente valorizado pelas
comunidades guineenses islamizadas, tanto no caso dos rapazes como
no caso das raparigas. Tendo como base a ideia de que "se não os
podes vencer, junta-te a eles", o fanado alternativo (fanado ki
kudjidu, em crioulo) pretende manter o que o rito tem de positivo,
eliminando as práticas nefastas que lhe estão associadas. A excisão
do clítoris é apenas a mais bárbara dessas "provas de força".
Imãs de Bissau defendem MGF
Aparte as inúmeras formas de violência exercidas sobre as crianças,
na cerimónia tradicional, as fanadozinhos recebem uma educação
informal, que passa por regras de comportamento, normas de respeito
em relação aos mais velhos, conhecimentos do alfabeto e transmissão
de segredos mágicos dos seus grupos étnicos. O projecto da SMN
mantém tudo isto e introduz ainda algumas mais-valias, como os
bordados e a renda, regras de higiene e cuidados básicos de saúde,
nomeadamente sobre a sida e o paludismo, e formação sobre os
direitos das crianças.
No entanto, não foi com agrado que a comunidade de Bissaque recebeu
a notícia da realização do fanado alternativo no seu bairro. A
apenas algumas centenas de metros da Baraca Malgóss erigida pela SMN
foi erguida uma barraca do fanado tradicional — este ano com
autorização oficial concedida ao mais alto nível, já que a curta
distância das eleições legislativas, marcadas para 12 de Outubro
antes do golpe de Estado militar de 14 de Setembro, aconselhava a
corte do eleitorado islamizado.
Os populares queriam que a SMN saísse do bairro, acusando-a de
tentar "acabar com o islão", e a polícia teve que repor a ordem.
Ritual ancestral, a MGF não é defendida no Alcorão, tanto que os
países árabes não a praticam. Não é isto, todavia, o que pensa a
maioria dos imãs das imensas mesquitas de Bissau. É pelo menos essa
a garantia dada por Saya Djaló, responsável pela mesquita de Pilom
(a mais importante da capital guineense), que não hesita em dizer
que "o corte vem no Alcorão" e finge não ouvir quando se lhe
contrapõe que o xeque da mesquita de Lisboa afirma que não.
O "homem grande" também diz desconhecer que a excisão prejudica a
saúde da mulher. É com naturalidade que apoia o corte, ao mesmo
tempo que, paradoxalmente, defende que se acabe com a realização do
ritual no mato, porque aí "bate-se nas meninas", e que aquele passe
a ser feito em casa. O fanado alternativo da SMN, esse, não passa de
"uma brincadeira", desvaloriza.
Os esforços da SMN no sentido de sensibilizar os líderes religiosos
não parecem estar a dar grandes frutos. A uns passos da casa de
Djaló, o imã da mesquita de Pefini, Malam Samaly, descansa numa
cadeira, enquanto a sua mulher prepara o almoço. Reconhece que a
excisão não é um fundamento islâmico, mas pertence à "cultura dos
antepassados", que deve ser preservada. A esposa toma-lhe a palavra.
"As mulheres [não excisadas] são promíscuas e histéricas", vocifera,
olhando de canto a jornalista e criticando "os brancos" que "andam
para aí a dizer que não se deve fazer". Aproveita para se queixar,
com uma pontinha de desdém, que "os homens começam a preferir as
mulheres não excisadas". Mas, ali, nos bairros de Pilom de Cima e de
Pilom de Baixo, onde vivem maioritariamente mandingas e fulas (outra
das etnias islamizadas), "todas as mulheres foram ao corte". E assim
farão as suas filhas, garante Adja Indjai. Reconhecendo que, às
vezes, "não há dinheiro para as cerimónias e faz-se só o corte", a
mulher adianta que as meninas antes eram excisadas aos cinco, seis
anos, mas que agora podem sê-lo quando ainda são bebés. E o que é
mesmo que se passa dentro da barraca? "É segredo". Regressa o
silêncio. Acaba a conversa.
Passar de menina a mulher
Saem da Baraca Malgóss de cabeça baixa e sem olharem para trás, pés
descalços na terra vermelha. Lenços cobrem-lhes as cabeças e as
caras, panos coloridos comprados pela família especialmente para a
ocasião tapam-lhes os corpos, mais ou menos infantis. A cabeça toca
as costas da menina que vai na frente, para tentar manter no trilho
o comboio para a idade adulta. A máquina fotográfica dispara. Os
olhos assustados, até aqui colados ao chão, espreitam timidamente
por uma nesga do lenço. É medo o que trazem inscrito. Provavelmente
medo de algo que não vai acontecer, mas que lhes disseram que doía
muito. As mãos estancam à porta do ventre que não lhes vão roubar.
Os batuques do djidiu e uma multidão de outras pessoas acompanham os
dois quilómetros de calvário das fanadozinhos, que caminham para a
sua primeira aparição pública após dois meses de retiro. Já tomaram
o banho purificador e comeram galinha pé dentro (recheada).
O caminho de terra não chega para todos os que seguem a romaria.
Táxis e toca-toca (transportes colectivos) buzinam insistentemente,
contribuindo para aumentar a confusão. Como se não bastasse, aparece
o cancoran. Feiticeiro temido por todos, que parece retirado do
fabuloso mundo das fábulas infantis. Coberto totalmente por um
tecido vermelho-vivo e retalhado, que não deixa adivinhar quem
encarna a figura mítica, ostenta dois machetes enferrujados,
brandindo-os um no outro como quem ameaça dar-lhes uso (no fanado
tradicional dá mesmo). As crianças elegem a fuga e parecem ratos a
esgueirarem-se pelos poros de uma cultura incrivelmente mitológica.
Dois mil metros de caos generalizado. As fanadozinhos permanecem
alheadas de tudo o que se passa em seu redor, como se a festa não
fosse sua. Os olhos mantêm-se toldados pelo medo.
Em fila, percorrem uma vereda minúscula e atulhada de lixo até
desembocarem no amplo campo de futebol em terra batida da Escola
Superior Tchico Té. Chegou a hora do Fidi Lifanti. Cuidadosamente
alinhadas (fazendo lembrar as paradas militares), as meninas
cumprimentam o público com uma dança de joelhos para a direita e
para a esquerda, para cima e para baixo, sincronizadas pelo som seco
dos batuques, e gritando "coisas secretas" que aprenderam na Baraca
Malgóss. Os olhos continuam presos ao chão, onde deitam a cabeça
terminada a saudação. O cancoran continua a manter a ordem, uivando
como sirene de bombeiros, e a proteger as meninas da desorganização
alheia.
Erguem-se de seguida e soa o tambor. Correm desvairadas pelo Campo
da Granja. Muitas caem pelo caminho, sozinhas ou ajudadas por
rasteiras das lambés (raparigas já iniciadas que acompanham as
fanadozinhos e lhes ensinam danças e cantigas tradicionais) ou de
familiares. Diz-se que quem vence a corrida tem morte certa no prazo
de um ano, mas o fanado alternativo tem tentado contrariar esta
ideia. Ainda assim, é de tristeza a expressão dos pais da menina que
primeiro tocou no tambor colocado do outro lado do terreno e que
agora surge aterrorizada sob a axila de Molo Seidi, a comprida chefe
das fanatecas, que empunha o Irã da Baraca (um instrumento de
madeira, tipo foice com sininhos, envolto num pano vermelho).
As mães são em maior número, mas os homens também lá estão. "Deus
não pôs nada na mulher a mais, não nos devemos aventurar a tirar
nada", sustenta António Iaia Seidi, pai de Sónia, fanadozinho de
cinco anos de idade. Aissatu Banora, mãe de uma filha de dez anos,
também prefere o fanado alternativo "porque não há faca e hoje
fala-se muito da sida...".
Terminada a primeira cerimónia pública, as meninas são levadas —
muitas às cavalitas ou ao colo, visivelmente exaustas — para a
Baraca Doce, lugar aberto ao público, montado no Jardim Infantil
Nelson Mandela, na Estrada de Bor. Todo o dia seguinte é dedicado a
cuidar da aparência. Lambés e fanadozinhos espraiam-se por esteiras
colocadas no chão, as primeiras de pernas abertas, as segundas com a
cabeça para baixo, deitada no ventre das suas companheiras
inseparáveis. São horas e horas de volta do Tissi Cabelo. Pentes
enormes entrançam os novelos emaranhados que encimam as cabecinhas
negras, adornadas com os mais variados talismãs e "mezinhos" para
proteger dos maus espíritos. Algumas mulheres abanam o calor com
panos. Os tocadores do djidiu escorrem música dos batuques em gotas
de suor. As bundas das mulheres desafiam as leis do ritmo e
estremecem o ar.
À porta da cozinha, faz-se o chabéu (fruto da palmeira, que é pilado
até formar um suco vermelho-sangue) que alimentará todas as
fanadozinhos e funcionários do fanado alternativo. Numa bacia
descansam milhões de grãozinhos de um cuidadosamente limpo arroz, a
base da alimentação guineense.
A dança da entrega das facas
E é chegado o grande dia: a festa de encerramento. Já primorosamente
vestidas, as meninas apresentam-se à comunidade como as suas mais
recentes adultas. O pescoço está pintado com pó de talco, sinal de
purificação que manterão durante duas semanas, para se distinguirem
das outras crianças e das outras mulheres. Fios de lã vermelha
seguram o furo recente nas orelhas. Búzios e outros protectores
enchem-lhes os corpos e um cordão colorido com sininhos pende-lhes
das mãos. As tranças desenham o cabelo. Os olhos continuam sem
sorrir. Uma menina desmaia, talvez do calor, mas a discussão gerada
envolve diversos irãs. Uma mulher mais velha do que o tempo é
acusada de bruxaria. Ri-se sem dentes do desvario das mulheres
jovens que lhe apontam o dedo. A menina volta e a cerimónia
continua.
Findas as apresentações, as fanadozinhos alinham-se nas esteiras,
pernas estendidas para a frente, sandálias deixadas na terra.
Khadija Aires dos Reis tem 14 anos e não é filha de pai muçulmano.
Mas a mandinga avó materna quis levá-la este ano ao fanado
tradicional e a mãe achou que a única maneira de o evitar era
integrá-la no ritual alternativo. Acena que sim com a cabeça quando
se lhe pergunta se é duro ficar dois meses na Baraca Malgóss. Quanto
à troça alheia, afirma: "As outras meninas [que vão ao fanado
tradicional] não podem gozar, porque tudo o que elas sabem, nós
também sabemos". Tudo menos o que é ficar mutilada para toda a vida.
Surgem mais dois seres mágicos. As lónio, mulheres totalmente
cobertas, dançam ao som dos tambores. São indispensáveis para
validar o fanado. É agora tempo de discursos. "O fanado não é só o
corte, aprendem-se muitas outras coisas", sublinha a presidente da
SMN, Augusta Baldé. Os líderes religiosos estão ausentes.
O som dos tambores aumenta de volume. Os músculos dos homens do
djidiu retesam-se a cada batucada e as veias parecem querer
saltar-lhes dos braços. Nima Corubum é a primeira fanateca que entra
na dança da entrega das facas. Os movimentos do corpo enganam os 70
e incertos anos que já leva de vida. É com emoção que entrega o
objecto do qual sempre viveu, envolto num pano vermelho. Segue-se
Molo Seidi, que, em nome de todas as fanatecas, diz que esperam
agora uma alternativa, porque a faca sempre lhes deu tudo o que
precisavam. "Algumas pessoas chamam-nos estúpidas e insultam-nos por
entregarmos as facas", desabafa, como quem pede que lhe provem que
tal não é verdade.
A entrega não é feita de ânimo leve. É como se um cirurgião
entregasse o bisturi com o qual opera. As fanatecas exigem uma
recompensa em troca da renúncia ao seu ganha-pão. Um pouco de
dinheiro para montarem um pequeno comércio. Ou para comprarem
alfaias agrícolas para trabalharem no campo ou máquinas de costura
para fazerem roupas para venderem no mercado.
Ao entregarem as facas, herdadas das mães ou das avós, estão também
a abdicar de uma actividade prestigiada socialmente.
As 36 fanatecas que, no ano passado e pela primeira vez na história
do país, entregaram as suas facas ainda não receberam nenhum dos
apoios prometidos. Receia-se que muitas já tenham voltado à sua
antiga ocupação. Há, pelo menos, três confirmações.
A reconversão sócio-económica destas mulheres (que tem sido,
sucessivamente, adiada) faz parte do projecto e é, simultaneamente,
o "maior problema" que a SMN tem para resolver, reconhece Augusta
Baldé, defendendo que é necessário criar uma cooperativa de
fanatecas, atribuir-lhes microcréditos e dar-lhes formação
alternativa. "A entrega das facas tem sido um processo lento, mas
que implica um pedido urgente de reconversão sócio-económica. Este
processo devia abranger o Governo e não estar completamente
dependente de financiamentos externos, porque há muitas fanatecas
com conhecimentos de saúde tradicional que podiam muito bem ser
aproveitadas como agentes de saúde de base", acrescenta Paula da
Costa, conselheira técnica do Projecto Direitos da Mulher, que,
desde 2001, trabalha com a SMN no combate à MGF. No caso das
mulheres "muito velhas", realça a cooperante portuguesa, a
reconversão é difícil, devendo o Estado atribuir-lhes uma "pequena
reforma". Se lhes derem uma alternativa, acredita, as fanatecas
acabarão por ser multiplicadoras do projecto. "Cada fanateca ganha
significa duas ou três ganhas no futuro".
As danças prosseguem — abençoadas por uma chuva de dinheiro
proporcionada pelos espectadores e saudadas por esvoaçantes panos
coloridos — e as facas sucedem-se. Caem na mesa em frente à
presidente da SMN, que as vai registando num bloco. São mais de 40.
O brilho-quase-por-estrear de algumas leva a desconfiar da sua
autenticidade.
No futuro, a SMN pretende acompanhar a entrega das facas com um
juramento com cola — produto mascado pelos guineenses para dar
energia e usado para selar os mais variados compromissos e acordos.
Porque palavras leva-os o vento, este juramento sagrado, a efectuar
na mesquita, seria a única forma de garantir que as fanatecas não
voltarão a fazer o corte.
A resistência à mudança é muita e todos os cuidados poucos. Nesse
sentido, a SMN resolveu também seguir as fanadozinhos, que
"necessitam de acompanhamento permanente da parte do projecto, de
forma a não correrem o risco de serem excisadas mais tarde",
sustenta Paula da Costa. Ciente de que se está a criar um "grupo de
exclusão", já que "a menina muçulmana não excisada perde mais-valia
social" e torna-se, portanto, permeável a pressões da comunidade, a
conselheira técnica considera que incluir o grupo passa por
acompanhá-lo.
Seguimento das fanadozinhos envolto em incertezas
No ano passado, fizeram-se três fanados alternativos: em Buba (Sul),
Farim (Norte) e Gabú (Leste). A PÚBLICA foi ver como está a correr o
seguimento das 180 meninas que neles participaram e, nas duas
viagens (a terceira, a Buba, não se realizou devido à queda de uma
ponte, na sequência de fortes chuvas), bateu com o nariz na porta.
Os centros de acompanhamento de Farim e Gabú estavam fechados. Mas
nem tudo se perdeu. Duas das 60 fanadozinhos que deviam estar a ser
seguidas aceitaram contar, à sombra de uma árvore, como funcionam as
coisas em Gabú. Disseram que as três animadoras faltam muito e que
encontram frequentemente o centro fechado. Sem avisos prévios nem
informações sobre o regresso à normalidade.
As actividades do centro passam, essencialmente, pela costura, renda
e bordados. O grupo de teatro, apesar de já ter ensaiado quatro
peças educativas sobre a MGF, ainda não mostrou em público o seu
trabalho. Fanta preferia "aprender outras coisas", para um dia ser
jornalista.
Já com 16 anos, Fanta participou no fanado alternativo no ano
passado. Sendo mandinga, impõe-se perguntar se, com aquela idade,
nunca tinha ido ao fanado tradicional. Desvia os olhos para o chão e
abana timidamente a cabeça dizendo que não. Atrás, uma voz feminina
sentada num muro reage. Fala mandinga. A menina agita-se. Não olha
nos olhos porque sabe que mente. Mais tarde, feita a tradução,
ficámos a saber que Fanta já era excisada quando foi ao fanado
alternativo.
As razões para esta situação acontecer podem ser várias e
justificam-se pela falta de controlo do projecto. Algumas meninas
podem ter sido apenas submetidas ao corte, mas não terem tido
dinheiro para cumprir toda a cerimónia e os pais vêem no fanado
alternativo uma oportunidade para concluir o cerimonial. Por outro
lado, durante os dois meses de retiro, as famílias não têm que
gastar dinheiro com a alimentação das crianças, já que o projecto
encarrega-se disso (através de apoios do Programa Alimentar
Mundial). Este ano, 360 pessoas foram alimentadas diariamente pela
organização.
Ussumane Baldé dá aulas de alfabetização de fula (língua étnica) no
Gabú e chegou a colocar-se à disposição da SMN para, através das
fanatecas que tem na família, fazer campanhas de sensibilização
junto das "mulheres grandes". Não obteve resposta até hoje. Ao seu
lado, Paula Djaló, dona de casa, acrescenta que o facto de as
animadoras não serem da região não facilita a tarefa de convencer
"pessoas que não conhecem" a deixarem de fazer algo que fazem há
tanto tempo que a memória já não se lembra.
O cenário repete-se em Farim. Todas as animadoras estavam em Bissau.
O grupo de teatro está parado. Mas as aulas de apoio, "sobretudo de
matemática e português", estão a funcionar. Pelo menos assim disse
um dos professores que trabalha com as poucas meninas que aparecem,
usando um "pequeno quadro emprestado" para o qual já não tem giz.
Cadernos e lápis ainda há, mas "não são suficientes". As crianças
trazem as próprias cadeiras. Alfredo Júlio Pereira não recebe desde
Agosto.
Estrada Farim-Bissau. No meio do mato, ergue-se o Centro de
Djalicunda, financiado pela Swissaid, onde a rádio comunitária Kafo
divulga programas educativos sobre práticas nefastas. "É preciso
novas estratégias para convencer as pessoas", adianta Mamadu Silla,
coordenador da emissora. Conta que transmitiram programas elaborados
pela SMN mas, como nunca receberam dinheiro, deixaram de o fazer.
Diz que "o fanado alternativo não é bem acolhido pela comunidade" da
região de Farim, muito porque esta esperava que o projecto tivesse
seguimento este ano.
Abdulai Jamanca, apresentador de programas em língua fula, tem uma
filha e está preocupado com o seu futuro. Isto porque "as 'mulheres
grandes' é que mandam" e podem excisar a menina sem que ele saiba.
"Estou contra este sistema mas não tenho decisão na casa", lamenta.
"O homem nunca sabe nada disso. Quando as mulheres decidirem acabar
com isso, isso vai acabar", corrobora Mamadu, que ainda não tem com
que se preocupar.
Governo guineense nunca apoiou projecto
Paula da Costa considera que o fanado alternativo é "uma boa
estratégia de trabalho, mas deve ser apenas uma de muitas". "Falta
melhorar as campanhas de sensibilização junto da população, que deve
ser um trabalho continuado de 365 dias por ano".
"É também necessário que o fanado alternativo tenha cada vez mais a
participação da comunidade para que, a médio e longo prazo, deixe de
ser uma actividade de uma ONG para se transformar numa actividade da
própria cultura", defende.
Apoiado financeiramente pela ONG alemã WFD e pela portuguesa
Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros subsídios esporádicos, o
fanado alternativo — que custou, este ano, qualquer coisa como 20
mil euros — não é, nem nunca foi, patrocinado pelo Estado guineense.
A presidente da SMN conta mesmo ter sido insultada por Kumba Ialá
quando lhe foi pedir apoio. O ex-Presidente terá dito, simplesmente,
que não se pode mudar a cultura.
"Podia haver um trabalho mais real e efectivo do Governo para apoiar
o projecto", assevera Paula da Costa. Apesar do "apoio moral" dado
pelos ministérios da Saúde e da Educação, sublinha, as autoridades
podiam actuar mais no que diz respeito aos programas escolares e à
formação dos quadros de saúde.
O financiamento do fanado alternativo termina em Dezembro e a
promoção do projecto a nível da sub-região, ou mesmo do continente,
continua por fazer.
A falta de cooperação entre as várias ONG que combatem as práticas
nefastas é inacreditável num país com tão poucos recursos. "Cada um
trabalha para o seu lado", reconhece Augusta Baldé. "Seria útil que
as diferentes ONG tivessem um plano de trabalho conjunto, mas o
processo de juntar as ONG numa luta comum é complicado em todos os
países do mundo, não sendo também fácil na Guiné-Bissau", acrescenta
Paula da Costa. Em Maio deste ano, um encontro nacional de ONG que
combatem a MGF fixou a necessidade de coordenar esforços e apelou ao
Governo para se associar à iniciativa. Passaram cinco meses e das
palavras ainda não se passou aos actos. Entretanto, em vários cantos
do imenso continente que é África, milhares de meninas continuam a
ser mutiladas diariamente. Em nome da tradição.
Jovens contra as práticas nefastas
A cidade de Bafatá (Leste do país) é o quartel-general do combate
contra as práticas nefastas levado a cabo pela Réné-Renté. É uma
organização não governamental dirigida por jovens, mas sem
exigências de idade no que toca a colaboradores no terreno. Cinco
rapazes e doze raparigas fundaram a Réné-Renté há três anos para
"sensibilizar a população rural no domínio da saúde". Hoje, conta
com 85 membros e centraliza as suas forças na luta contra a MGF.
Um comité de vigilância — composto por chefes de família, líderes
religiosos e tradicionais e fanatecas reconvertidas, todos eles
elementos com grande poder no seio da comunidade — tem a função de
explicar às famílias as causas da excisão e incentivá-las a acabar
com a prática. A Réné-Renté gaba-se ainda de ter conseguido cativar
o ferreiro, figura responsável por produzir e distribuir as facas
usadas nos rituais de iniciação. "Ainda faz facas, mas já prometeu
deixar de o fazer progressivamente", regozija-se Admaia Gavancho,
coordenadora da Réné-Renté.
O diálogo com as excisadoras é uma vertente privilegiada de uma
actuação que pretende mudar mentalidades e rejeita a ideia de
oferecer dinheiro às fanatecas que entreguem as facas, como faz a
Sinin Mira Nassiquê. "Não é a troco de dinheiro que as coisas vão
mudar, mas a troco do sentido", considera Admaia.
Em conversas diárias com as fanatecas, os jovens anotaram as suas
recomendações — que passam pela construção de centros de corte e
costura, realização de campanhas de alfabetização e criação de
contas-poupança — e vão pedir financiamento para o projecto de
reconversão.
Bafatá é uma zona maioritariamente islamizada, com mandingas, fulas
e saracolés, todos "muito ortodoxos", o que torna "difícil
convencer", reconhece Admaia. Além disso, a taxa de analfabetização
das mulheres é superior a 90 por cento. Mas, "pouco a pouco",
acredita, a MGF "vai terminar".
O trabalho é quase todo voluntário e custeado por um sistema de
quotas, já que a Réné-Renté conta apenas com o apoio da SNV,
organização holandesa de desenvolvimento, na área da sensibilização.
A organização "precisa ainda de muita coisa", não dispondo de coisas
tão básicas como computadores e gravadores para registar as
conversas com as fanatecas. A sede onde trabalham — espaço cedido
pelas autoridades locais — tem apenas "uma mesa e cadeiras".
Mais a leste, no Gabú, outra zona maioritariamente islamizada, os
doze membros da Ajudade combatem a MGF fazendo sensibilização "porta
a porta". Abdurrahman Djaló reconhece que "é mais fácil sensibilizar
os mais novos" e não hesita em dizer que "as mulheres são mais
difíceis" de convencer e que "resistem mais" às mudanças. A
abordagem privilegia, uma vez mais, as consequências para a saúde,
nomeadamente no que toca aos problemas no parto.
Mudar por dentro
Apesar de a MGF não ser recomendada pelo Alcorão, é nas tribos
islamizadas que a prática mais está difundida. Além disso, os imãs
de alguns países não têm pruridos em transformá-la em fundamento
religioso.
A Al-Ansar é a mais antiga organização não governamental islâmica
guineense e luta diariamente para convencer as pessoas de que a
excisão feminina não é uma obrigação muçulmana, mas uma "prática
contrária aos ensinamentos do profeta Maomé".
Ensa Djandi abre-nos a porta da organização que fundou em 1992 e à
qual deu o nome árabe para "aqueles que ajudam". Há dez anos que a
Al-Ansar luta contra a maré e arrisca-se a perder as forças. Isto
porque pertence ao Conselho Nacional Islâmico (CNI), do qual fazem
parte outras 20 ONG. Apenas duas delas apoiam o combate contra a
mutilação.
Na década de 90, "quase 80 por cento" dos líderes islâmicos eram
favoráveis à proibição da excisão. "Após os ataques do 11 de
Setembro [de 2001], a tendência modificou-se radicalmente", explica
Djandi. Há dois anos, o CNI apoiou o fanado tradicional e acusou a
Al-Ansar de "estar a ser utilizada pelos 'brancos' para destruir o
islão". "Estamos a ser atacados por todos os lados", diz Djandi, a
passos de baixar os braços. Malam Turé, coordenador da Al-Ansar, que
tem mais de cinco mil membros, acrescenta que a discussão sobre os
contornos religiosos da MGF sempre foi complicada e nunca houve
"consenso geral".
Experiente diplomata, Djandi diz que o problema da MGF passa pela
inexistência de uma "lei específica". Há uns anos, um projecto
chegou a entrar na Assembleia Nacional Popular, mas perdeu-se numa
gaveta qualquer.
A abordagem da Liga das Mulheres Muçulmanas centra-se na educação,
apoiando o ensino das crianças, principalmente nas zonas rurais. O
combate não está ganho, mas Fátima Fati, presidente da Liga, fala em
progressos e confia nas gerações futuras. "Dantes era difícil falar
sobre isso, era tabu. Hoje estamos aqui, sentadas, a conversar".
|